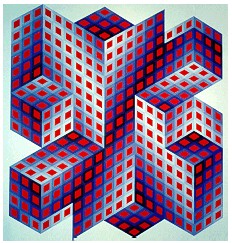Resposta a
Lourenço Ataíde Cordeiro, de
O PROJECTO, a quem agradeço a disponibilidade para participar neste debate:
1. Nas páginas da
Ordem dos Arquitectos, mais especificamente nos seus
estatutos, encontrei uma lista dos "actos próprios da profissão de arquitecto". Esses actos "consubstanciam-se em estudos, projectos, planos e actividades de consultadoria, gestão e direcção de obras, planificação, coordenação e avaliação, reportadas ao domínio da arquitectura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e desenho do quadro espacial da vida da população, visando a integração harmoniosa das actividades humanas no território, a valorização do património construído e do ambiente". Para o dicionário Texto Editora, o termo "arquitecto" vem "do Lat.
architectu < Gr.
árchi, principal +
tékton, carpinteiro, pedreiro" e significa "o que faz a planta e dirige a construção de edifícios". A definição de arquitectura é muito simples, ainda segundo o mesmo dicionário, correspondendo à "arte de edificar ou de projectar e traçar planos", e não difere muito da definição feita pela própria Ordem dos Arquitectos, embora esta seja um pouco mais abrangente. O problema que levantei originalmente não está, por isso, na definição de arquitecto. Está no facto de a Ordem dos Arquitectos pretender que "só os arquitectos inscritos na Ordem podem [...] praticar" arquitectura. Os membros da Ordem dos Arquitectos pretendem uma definição mais estrita de arquitecto. Pretendem que "arquitecto" signifique "membro da Ordem dos Arquitectos", excluindo de tal definição todos os outros, pratiquem ou não arquitectura. Os membros da Ordem dos Arquitectos querem ter o exclusivo da prática da arquitectura.
É contra esta exclusividade que me insurjo. Que a Ordem dos Arquitectos pretenda atribuir títulos de acordo com critérios que são os seus, parece-me bem. Parece-me mal, isso sim, que o faça com o beneplácito do estado, que lhe confere o exclusivo direito de o fazer e de decidir quem pode "fazer a planta e dirigir a construção de edifícios". Dir-se-á que, nesse caso, eu sou contra as Ordens em geral. É parcialmente verdade. Nada teria contra as ordens se não fossem ordens, se fossem simples associações a que cada um era livre de se associar ou não. Essas associações poderiam ter papeis importantes, sobretudo se agissem concorrencialmente, i.e., se existissem várias para cada profissão.
É interessante reparar que a definição estrita de arquitectura, i.e., aquilo que os arquitectos fazem, não é usada pelos próprios arquitectos. É interessante ler, por exemplo, o que diz
Pedro Jordão no seu
Epiderme acerca do Muro de Berlim:
Para Koolhaas, que escreveu sobre o tema, a grande surpresa era o Muro ser arrebatadoramente belo (1). Considerou-o o gesto arquitectónico mais puramente urbano dos últimos séculos, e talvez não estivesse errado. Principalmente devido à sua vibrante dualidade, responsável pelos inúmeros significados, espectáculos e realidades que se desenvolviam ao longo dos seus 165 quilómetros. E a verdade é que, apesar da elementaridade cruel do seu programa, o Muro de Berlim foi o verdadeiro mito urbano do século XX.
Apesar do seu traçado irregular, a sua continuidade só era quebrada nos intervalos onde existiam postos fronteiriços. Mas mais interessante é observar como a sua configuração, nomeadamente no que toca às dimensões e aos materiais construtivos, se modificava de acordo com o contexto específico de cada segmento, conforme fosse mais metropolitano ou mais suburbano. Existia um muro baixo e um muro alto, que aparecia essencialmente nas zonas mais urbanas, onde o confronto era simbolicamente maior. Nos restantes sectores, o Muro assumia um carácter banal, como se a tensão do gesto arquitectónico desaparecesse no maior silêncio da envolvente.
[...]
O Muro foi a obra arquitectónica minimalista por excelência. É uma obra de ausência, a materialização das palavras de Mies: beinahe nicht (quase nada). O vazio como comportamento incomparável de violência.
[Negritos da minha autoria.]
Terá sido o Muro de Berlim, "gesto arquitectónico mais puramente urbano dos últimos séculos", desenhado por arquitectos? Provavelmente não, como o não foram muitas das edificações por esse mundo fora a que a patine do tempo já conferiu o estatuto de património histórico e arquitectónico. Mas podemos dar outros exemplos de como a palavra arquitectura se aplicou, e continua a aplicar, a edificações que não foram desenhadas por arquitectos, pelo menos no sentido estrito da palavra.
Na Primavera de 1980 esteve em Portugal uma exposição itinerante do Centro de Criação Industrial do Centro Georges Pompidou. A exposição intitulava-se "Arquitectura de Engenheiros: Séculos XIX e XX". Desde a minha passagem pelo primeiro ano de Arquitectura que guardo o catálogo dessa exposição, onde se pode encontrar o seguinte extracto:
O debate arquitecto/engenheiro não terá em breve mais razão de ser. Resolvemo-lo quer defendendo o título de «construtor» que alia as características das duas profissões, quer preconizando um estreito trabalho de equipa. «Arquitecto? Engenheiro? Para quê colocar esta questão, debatê-la? Trata-se de fazer construções (...) Porque será que os construtores de aviões, de barragens, etc., não são qualificados com o título de arquitecto? O que leva a concluir imediatamente que o arquitecto deve saber forçosamente de engenharia; sem o que não poderá ter ideias seriamente defensáveis na matéria.
Há homens cuja formação é de engenharia que são grandes arquitectos. A recíproca também é verdadeira: será imaginável que os arquitectos se limitem a ser os estilistas da construção? Esta questão surge quando se debate a posição relativa do arquitecto face ao engenheiro, o que é grave.
A minha opinião é justamente que a questão não deve chegar a ser colocada.»
Jean Prouvé, "Une architecture par l'industrie", Les Ed. d'Architecture, Zurique, 1971.
Respondendo a
Lourenço Ataíde Cordeiro, diria que um engenheiro de minas, ao desenhar um edifício, está de facto a assumir o papel de arquitecto, tal como o próprio Jean Prové, que começou a vida como ferrageiro, assumiu os papeis de designer e arquitecto. Usar a definição estrita de arquitectura para restringir a prática de arquitectura (no seu sentido lato) aos membros da Ordem dos Arquitectos, não passa pois de um truque semântico.
2. Quem será capaz de cumprir o que a nossa Constituição preconiza, i.e., construir "uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar"? Apenas arquitectos? Reitero que não. Que pura e simplesmente não é verdade. Que há muita gente que, não sendo membro da Ordem dos Arquitectos, é perfeitamente capaz de o fazer. É evidente que o requisito da Constituição, que diz respeito ao direito à habitação, é mínimo, podendo esses requisitos ser cumpridos por habitações com características e qualidades arquitectónicas totalmente diferentes. Mas uma Constituição deve ser mínima, restringindo-se àquilo que é essencial (e todos sabemos que a nossa Constituição não peca por defeito). Finalmente, se a Ordem dos Arquitectos julga que apenas um seu membro é capaz de projectar uma habitação nas condições indicadas, cabe-lhe o ónus de o provar.
3. Neste ponto, pelos vistos, estamos de acordo. Mas se assim é, se "o ordenamento do território e a criação de parques e reservas não são tarefas exclusivas do arquitecto, sendo que os engenheiros, os paisagistas, os economistas, os geógrafos, os sociólogos, entre outros, têm responsabilidades nesse campo", porque é que, na
petição promovida pela Ordem dos Arquitectos, o "direito à arquitectura", entendido como o direito da Ordem restringir a prática da arquitectura aos seus membros, surge como "decorrência lógica" do direito ao "
ambiente e qualidade de vida"?
4. Será que, como
Lourenço Ataíde Cordeiro afirma, muitos "não contratam arquitectos porque não querem e porque são [..] livres" e "por isso põem no mercado edifícios de habitação precários, sem qualidade arquitectónica, mal implantados urbanisticamente, que são autênticas agressões para o ambiente"? Se os edifícios são precários, e são vendidos como bons, o assunto deve ser resolvido na justiça. Se se argumentar que a justiça não funciona, que provavelmente não punirá os responsáveis, concordarei, mas direi também que, nesse caso, do que precisamos é de reformar a justiça, e não de resolver o problema "de cernelha", restringindo liberdades individuais no processo. Quanto à má qualidade arquitectónica, é verdade para a grande maioria dos edifícios construídos em Portugal, infelizmente. Quando à implantação urbanística, também pode acontecer, embora aqui a responsabilidade seja partilhada com urbanistas e municípios. Quanto a serem agressões para o ambiente, tenho muitas dúvidas, sobretudo se por isso se entende "ambiente natural". Mas a questão importante a responder aqui é a de saber se esses potenciais problemas justificam as restrições à liberdade individual que o "direito à arquitectura" preconiza. Na minha opinião a resposta é não.
5. É verdade que concordo globalmente com as citações da Resolução do Conselho da União Europeia feitas no texto da
petição promovida pela Ordem dos Arquitectos (embora tenha sérias dúvidas relativamente à "coesão social" e à "criação de emprego", dúvidas que não me pareceu pertinente realçar no meu texto original).
Lourenço Ataíde Cordeiro acha que é uma enorme contradição da minha parte não considerar as vantagens da arquitectura aí apresentadas como suficientes para justificar a revogação do Decreto 73/73. Não percebo onde está a contradição: para mim as vantagens apontadas estão longe de ser suficientes para o justificar. Admito que possa parecer pouco intuitivo, mas a minha posição filosófica é a de valorizar mais a liberdade de cada um do que todas estas vantagens, que pessoalmente reconheço, mas que muitos outros poderão não reconhecer como tal. Nada há de contraditório, pois. Eu prefiro a arquitectura, reconheço-lhe vantagens evidentes, mas prefiro que a arquitectura seja escolha livre dos clientes, e não uma imposição.
6. Não percebo a perplexidade de
Lourenço Ataíde Cordeiro neste ponto. O que digo é que os nossos clientes têm um gosto que eu (e presumo que a grande maioria dos arquitectos) considera ser mau. Ora, parece evidente que uma das razões para a revogação do Decreto 73/73 é a da qualidade arquitectónica, incluindo a questão estética. Mas estética não é ética, sendo a sua valoração sempre subjectiva. Aquilo de que eu não gosto nas nossas construções (as moradias "típicas", com as suas cantarias, beirais, colunas e balaustradas), outros gostam e escolheram porque gostam. Subjacente à proposta de revogação está a ideia de que a obrigatoriedade de assinatura de arquitecto evitaria este estado de coisas, pois os arquitectos, pela sua formação, têm melhor gosto. Mas podem os arquitectos erigir-se em padrões únicos do bom gosto, que imporão pela força da lei? Devem fazê-lo? Quanto a mim, não.
Quanto ao "gosto", é realmente de estética que falo. Segundo o dicionário Texto Editora, "gosto" é, entre outras acepções, "(fig.) critério artístico". Segundo o dicionário Novo Aurélio, "gosto" pode ser a "faculdade de julgar os valores estéticos segundo critérios subjectivos, sem levar em conta normas preestabelecidas: gosto requintado".
Diz depois
Lourenço Ataíde Cordeiro que eu lhe devo apresentar "alguém que saiba coordenar a complexidade de um projecto de arquitectura, com responsabilidade, com capacidade para se responsabilizar pelas suas consequências, que não tenha formação em arquitectura". Devolvo-lhe o desafio. Já que apoia uma petição que restringe as liberdades individuais, cabe-lhe o ónus da prova. Demonstre-me, pois, que só os membros da Ordem dos Arquitectos sabem "coordenar a complexidade de um projecto de arquitectura, com responsabilidade, com capacidade para se responsabilizar pelas suas consequências".
7. Aqui parece-me haver uma confusão.
Lourenço Ataíde Cordeiro começa por falar em fiscalização, e termina falando em responsabilização. Fala em responsabilização
a priori, e depois diz que a Ordem dos Arquitectos age
a posteriori. Dá-me razão, portanto. Em última análise pode-se considerar que, do ponto de vista da responsabilidade, e numa sociedade com uma justiça operacional, as Ordens não têm qualquer papel relevante. Quanto à fiscalização
a priori, ela existe hoje e existirá no futuro,
inclusive para arquitectos. Esta avaliação
a priori não desresponsabiliza o técnico, qualquer que seja a sua formação. Parece querer-se demonstrar que só um arquitecto é responsabilizável, mas isso é falso. Os outros profissionais também o são, como é evidente. Quanto à necessidade de contratar mais profissionais para fiscalizar, defendo o oposto. Com uma boa justiça, não seria necessária qualquer fiscalização prévia.
8. Os empregos não se devem conseguir através de leis que restrinjam a liberdade individual, a não ser que existam razões muito fortes para isso. Uma profissão não se deve impor pela lei, mas sim vencer no mercado, pela qualidade dos serviços prestados. Finalmente, é contraditório dizer que se tentou, através da formação de cada vez mais arquitectos, adequar a oferta à procura. Se assim fosse, porquê revogar o Decreto 73/73? É que o desejo de revogação surge justamente porque hoje parece haver muito mais oferta de arquitectos do que procura (pelo menos na argumentação dos arquitectos, pois não tenho dados oficiais que o demonstrem). Quando há excesso de oferta de um produto no mercado, o seu preço baixa. Se parte da oferta desse produto é importada, os produtores internos apressam-se a gritar por proteccionismo, argumentando com a pátria, a exploração de mão de obra barata, o desrespeito pelo ambiente, etc. O caso do "direito à arquitectura" é semelhante: aparentemente há excesso de oferta de projectistas no mercado, alguns deles "estrangeiros" (i.e., não-membros da Ordem dos Arquitectos). A petição pela revogação do Decreto 73/73 é, no fundo, um grito proteccionista.
9. Quanto à comparação com médicos, já expliquei porque não colhe: uma má prática de um médico pode matar, uma má prática de um arquitecto (naquilo que tem de específico, que um engenheiro civil, por exemplo, não faz) não mata.
10. Quando se fala de "agressão ao meio urbano" está-se a entrar no domínio da ambiguidade. Se a questão é estética, o argumento é fraco, pois gostos há muitos (uso de novo "gosto" propositadamente). Se são outros tipos de agressão (sombreamento, eliminação de vistas, impermeabilização de solos, etc.), devem estar cobertos pela lei ou pelos livres contratos entre os indivíduos, independentemente da classe profissional dos projectistas, como é evidente. A violação de leis e contratos é determinada e punida pela justiça.
11. Aqui reconheço a minha falha. Não deixei claras as minhas dúvidas acerca do impacte da arquitectura sobre a coesão social e a criação de emprego. Mas, mesmo esquecendo esta precisão, a verdade é que não se pode comparar a morte de alguém por má prática médica, por um erro de pilotagem ou pelo desabamento de um edifício, com as consequências da má arquitectura. Não: há uma enorme diferença entre uma morte por má prática médica e as consequências difusas e dificilmente quantificáveis ou demonstráveis da má arquitectura. Devolvo-lhe, mais uma vez, a pergunta, até porque é o texto da petição que faz a comparação da prática da arquitectura com a medicina, a pilotagem ou a engenharia civil: demonstre-me que a má prática da arquitectura tem consequências tão graves como a má prática da medicina.
12.
Lourenço Ataíde Cordeiro não percebe como a satisfação de um cliente pode ficar afectada pela obrigação de assinatura de um arquitecto. Ora, isso acontece pelo simples facto de ele deixar de poder recorrer ao técnico que prefere (no caso de preferir um não arquitecto). Quanto à "responsabilidade social" do arquitecto, recordo que a sociedade é sempre uma entidade abstracta a que se recorre para justificar este tipo de coisas. Mas, como se pergunta a opinião à sociedade? Através de um referendo? Através dos seus representantes, nas autarquias eleitas? Acontece que as autarquias já impõem às edificações as limitações que entendem necessárias. Nem por isso a relação deixa de ser essencialmente entre o arquitecto e o seu cliente, onde a supervisão da câmara é vista geralmente, e por vezes muito justamente, como intrometida.
13. Já expliquei que eu não dispenso o arquitecto. Pretendo é que os outros tenham a liberdade de fazer como entendam melhor. Se dispensarem, tanto pior, se não dispensarem, tanto melhor. Quanto a perceber o que é um arquitecto, percebo perfeitamente. O pior que se pode fazer para defender a arquitectura é considerá-la uma actividade cabalística, cuja compreensão está vedada ao comum dos mortais, sendo acessível apenas a um conjunto de iniciados (onde invariavelmente não se encontra quem discorda).
14. Limito-me a observar que não compreendo porque é que, se "a arquitectura está em saldos", os honorários dos arquitectos não baixam, e a afirmar que o melhor juiz da relação qualidade preço de um projecto é o cliente.